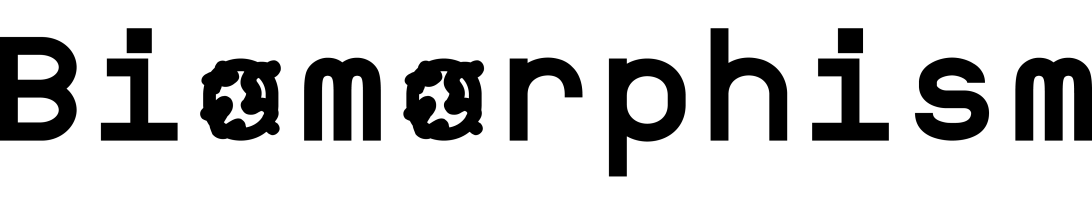-
A divisão dos átomos (revista FAZER #1)

A convite dos editores/curadores Frederico Duarte e Vera Sacchetti, escrevi para o primeiro número da revista FAZER uma longa reportagem sobre condições laborais no design em Portugal. A partir de uma leitura sociológica das sucessivas crises atravessadas pelo país nos últimos 16 anos, procurei identificar as causas para a degradação do mercado de trabalho, sobretudo entre os mais jovens, e ao mesmo tempo perceber como os trabalhadores reagem, ou como poderiam reagir. Para tal, dialoguei com vários interlocutores da área, analisando com particular atenção a história do recém-formado SINTARQ – Sindicatos dos Trabalhadores em Arquitectura.
A revista FAZER é um novo projecto editorial no design português, criado por Frederico Duarte e Vera Sacchetti, com design do Atelier Carvalho Bernau. A este primeiro número correspondeu uma exposição no espaço Fidelidade Arte, em Lisboa, na qual foram exibidos, para ilustrar este texto, vários cartazes e uma faixa de protesto do Movimento dos Trabalhadores em Arquitectura (antecedente do SINTARQ).
COMPRAR ONLINE: https://fazer.design/1/
«Num século de crises económicas contínuas a precaridade laboral tem aumentado de forma inexorável e tanto designers como arquitectos não são excepção. Os últimos anos têm sido marcados por uma renovada percepção das práticas de abuso e exploração laboral nas chamadas disciplinas de projecto. Mas também do potencial de organização dos seus profissionais enquanto trabalhadores – não só para buscar reconhecimento social mas também exigir direitos e benefícios.
Esse acordar chega quando tanto profissionais como estudantes são confrontados com as realidades de um mundo do trabalho de uma forma brutal e inesperada. As realidades da prática e os direitos e deveres dos trabalhadores são questões menosprezadas no ensino da arquitectura e do design. Isto acontece porque a tradição modernista destas disciplinas determina uma educação para a criatividade, a excepcionalidade, e a individualidade: gera autores, feitos à imagem do génio criativo e isolado. Embora carismática, essa imagem é drasticamente diferente do papel que a maioria dos estudantes desempenhará uma vez saídos de um curso técnico ou superior.
Este artigo demonstra como esses mitos são destruídos pela realidade laboral contemporânea, refletindo sobre a natureza do trabalho criativo e analisando movimentos de representação profissional e organização laboral na arquitectura e no design. Ao interpelar dirigentes e integrantes de várias organizações – tais como o recém-formado SINTARQ (Sindicato dos Trabalhadores em Arquitectura) – o texto interroga as suas causas, bem como as suas estratégias, em prol de quem trabalha, todos os dias, nas disciplinas criativas em Portugal.
Este texto é uma sinopse do artigo publicado na Fazer #1, inicialmente redigida para a exposição Fazer #1.
Este e outros artigos desta edição impressa da revista ficarão disponíveis para leitura e partilha online quando a sua tiragem esgotar.»Fonte: https://fazer.design/1/a-divisao-dos-atomos/

© Bruno Lopes (Instagram @fazer.revista) -
Lisboa em chamas mas só lhe conseguimos ver o fumo
Será difícil esquecer a primeira vez que fui ao Estrela. Edifício de esquina à Graça, dentro da antiga vila operária desenhada no início do século XX por Norte Júnior para o industrial Agapito Serra Fernandes, o Bairro Estrela d’Ouro. Estávamos no Damas, um pouco abaixo, quando a Angelina nos falou desse espaço semi-clandestino. Nessa altura costumávamos sair para o Cais do Sodré e para outras paragens da Graça. Mas isto era algo diferente, percebia-se logo. Subidas as escadas em madeira, como quem vai para um after em casa alheia, chegava-se a uma bifurcação: à esquerda uma longa sala ladeada por sofás; à direita, um bar igualmente estreito, que se alargava um pouco antes das casas de banho. Muito barulho de música e conversa efusiva, muito fumo também. Uma cena com impacto, difícil de descrever. Virámos à esquerda e não passou despercebida a concentração de artistas, músicos, cineastas, putos da cena e outras personagens inusitadas que até então só encontrara dispersamente pela cidade. Já tinha conhecido sítios da Lisboa boémia, mas aquele havia de ser o nosso, sem que na altura o soubesse, mas talvez já suspeitasse.
Nas noites fortes — quinta, sexta e sábado — o Estrela estava à pinha. Era difícil andar, conversar, fumar cigarros sem queimar ninguém ou beber cervejas sem entornar. Era quente, suado, trashy, cacofónico. Dava para dançar, por vezes atrás ou em cima do balcão. Conseguia abrir-se espaço para as filas da casa de banho, um jeitinho para passar e pouco mais. Sentávamos em velhos móveis de segunda mão, cadeiras da escola primária, sofás rasgados, mesas a transbordar de garrafas e periscas, o chão a colar à sola dos sapatos. Nos primeiros tempos, havia na sala dos sofás um Macintosh antigo que funcionava como jukebox, mas a mesa do DJ costumava estar do outro lado, no bar. O Estrela era especial nas noites de enchente, mas não era pior nas noites calmas, quando se podia ir sozinho e encontrar sempre um companheiro com vontade de conversar e beber cerveja morna.
Espaço de lazer e convívio, certamente, foi também um epicentro cultural. Falo de centenas de concertos, performances, exposições, edições, DJ sets (nenhum deles mais emblemático do que os do Xico da Ladra). Jazz, hip-hop, música eletrónica, experimental, pop, pimba… Arte sincera do antigamente e a novidade da ironia. O Mário Mágico a fazer truques e retratos com cigarros apagados. Coisas muito boas, coisas muito más. Sempre algo para ver e nos desafiar. Assunto de conversa, mais não seja. E tudo isto num caldeirão político. Havia os cartazes anti-Temer que viraram discurso anti-Bolsonaro. Autocolantes antifa em todo o lado. Palavras de ordem mais ou menos sentidas. Discutia-se Trump, Chega, os fachos, a polícia, a crise. Ouviam-se velhas canções de protesto, particularmente eficazes em datas como o 25 de abril ou o 1º de maio. O Estrela sempre se inclinou à esquerda sem nunca ter “partido”.
Sítio marginal que todos os crónicos precisavam na sua vida. Espaço de experimentação artística e social. Futurista, melancólico, acordado, iludido, determinado, acomodado – símbolo reconfortante de uma geração cheia de dúvidas e intenções. A Lisboa moderna ainda ligada ao espectro notívago da metrópole burlesca, herança não reclamada do Herberto Hélder, da Natália Correia, do Zé da Guiné. Para nós foi Café Gelo, Brasileira, B.Leza, Cabaret Maxime, Frágil. Sítio que felizmente vivi já com a consciência de que a cidade é grande e se ali acontece a vida toda numa noite, tantas outras vidas acontecem em todo o lado onde eu não estava nem estive. Para nós Lisboa nasceu ali, Lisboa ali viria a morrer de certa forma.
No Estrela conheciam-se pessoas, faziam-se amizades, começavam-se e acabavam-se relações. Amor, vergonha, arrependimento. Também violência esporádica, incluindo assédio policial e imobiliário. Claustrofobia, ataque de pânico. Sítio impossível, um dos últimos. Fechou numa semana apoteótica. No último dia, com uma lotação mais que esgotada, deu-se a última visita dos agentes, que viram o seu carro de patrulha ser engolido por hipsters, mitras, freaks, junkies, dissidentes e o resto da sopa urbana que fazia o Estrela. Umas horas mais tarde, quando entrámos no Estrela pela última vez, não era fumo que enchia o ar, mas pó. Aqueles que tinham voltado primeiro, à revelia das ordens policiais, tinham começado a destruir o espaço à martelada.
O André, que geria o espaço, é uma figura central da noite lisboeta, ainda que de forma discreta. Antes do Estrela teve o Laboratório, que nunca visitei, e depois o Banco, por baixo da Sé. Sei que o Banco foi talvez, para uma geração um pouco mais nova, tão importante como o Estrela foi para mim. Mas nunca gostei tanto do Banco e só realmente o apreciei quando estava a fechar. À semelhança do Estrela, acabou em caos, sobrelotado, com cuspidores de fogo e falta de energia. Com suor e lágrimas, sangue não vi. Mas não quero, nem posso, individualizar o Estrela. Haveria muitos mais nomes a convocar e esquecer-me-ia, certamente, de uns quantos. Além disso, há gente com muito mais a dizer, porque se eu passava lá muitas noites, outros foram realmente essenciais em preservar aquele sítio e aquela comunidade, dedicando-lhe muito esforço e horas de vida. Por eles e elas sustentado, o Estrela foi uma autêntica experiência coletiva que fez sentido na altura em que fazia sentido.
Para mim falar do Estrela não é fácil, e não o digo com dramatismo. Sei que esta descrição de algo tão marginal e, no plano geral, tão insignificante, pode parecer hipérbole, delírio nostálgico, convenientemente vago e um bocado foleiro. Mas a verdade é que a memória vai-se perdendo apesar de todos os registos, aqueles que foram partilhados (como a Revista Decadente) e os que ficaram guardados por motivos mais ou menos evidentes (quantas fotos e vídeos em quantos telemóveis?). Hoje, o Estrela parece que é falado com cautela e mágoa. Alguém que se preparava para sair da cidade disse-me que Lisboa depois do Estrela não vale a pena. Já hiperbolizaram mais do que eu. Mas pouco vai ficando escrito.
No final de contas, para lá da simpatia pessoal, o que vale a pena reter do Estrela? Na minha opinião, o último fôlego vigoroso de uma cidade assaltada pela gentrificação. Um fôlego que não foi exclusivo, pois Lisboa teve e continua a ter, apesar de cada vez menos, outros focos de agitação cultural. Dito isto, a Lisboa do Estrela sobreviveu-o, mas não por muito tempo. O falecimento inesperado do Xico da Ladra, que era uma espécie de eixo à volta de quem tudo girava, destroçou e desanimou dezenas de amigos. Semanas depois, entrámos em confinamento pandémico, do qual saímos mais desagregados, cansados e pobres. A cidade foi tomada por nómadas digitais e turistas, que agora podem subir aquelas escadas, guardar a sua mala e beber um coquetel. Em relação a estas coisas não pode haver mágoa nem saudosismo. Sem dúvida alguma que o caminho se faz para a frente. Do passado, levamos essa diversão pura e sincera. Uma camaradagem em tensão constante e produtiva. Dialética e contraditória. Elétrica. E num flash, buraco negro.
-
“NADA Spiders for Change Fund”. Brad Troemel, 2016.
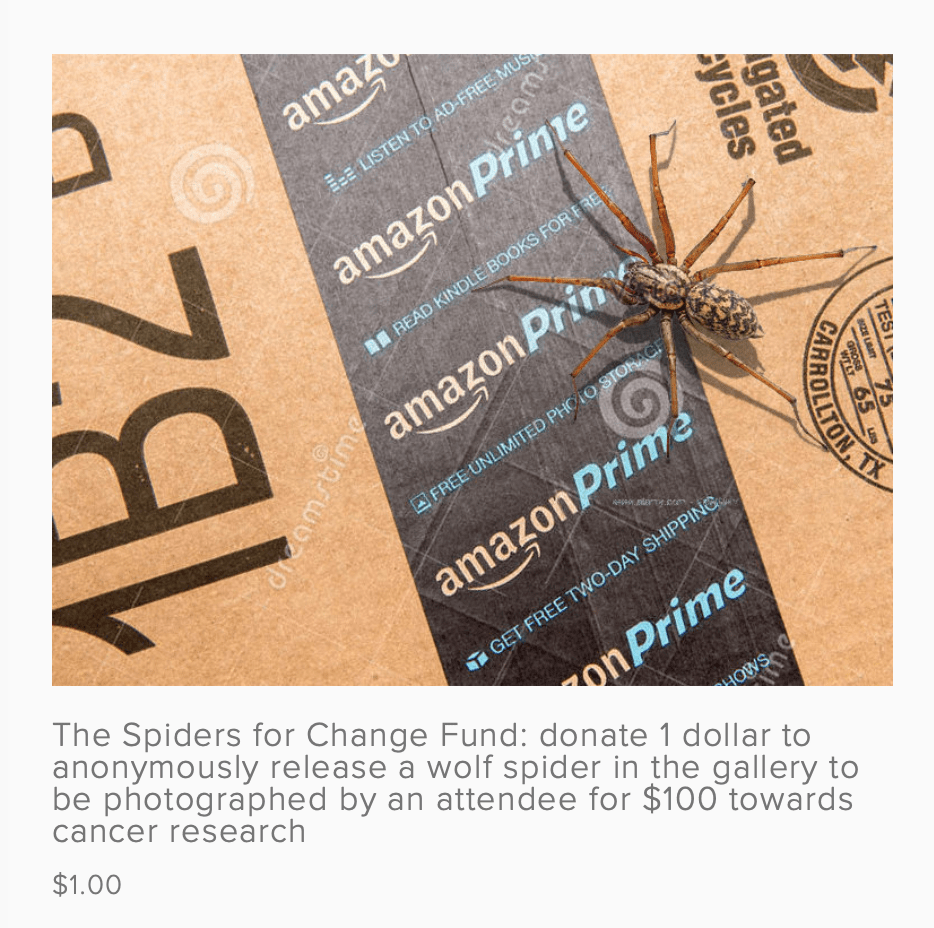
“The NADA Spiders for Change Fund is a limited time only charitable sweepstakes that works as follows:
During NADA’s May 5 – 8 run we will have an on call wolf spider distributor actively waiting to anonymously release (6) wolf spiders throughout the art fair for every time we receive a $1 Spiders for Change donation.
Our anonymous distributor has been equipped with a bulk quantity of wolf spiders via an online biological supply company and is available during normal fair hours of operation.
If you or a friend discovers a wolf spider at Pier 36 this weekend, take photo and video documentation to message to the UV Etsy account for verification and we will make a $100 donation to the Cancer Research Institute in your name.Please maintain discretion if you so happen to discover the identity of our wolf spider distributor over the course of the event, the Spiders for Change Fund is contingent on our ability to continuously and anonymously release wolf spiders inside of the art fair.” [fonte]
-
Coppola
Uma descrição brilhante do processo de criar, por alguém que estava a trabalhar nos limites da sanidade mental com uma clarividência rara.
-
Poesia
Lisboa, 2023
Na casa de banho do terraço do Lux ouvi um telemóvel a bombar cante alentejano. O som vinha da minha esquerda. Estridente, sobre o som do mijo. Da direita, uma reclamação: “Foda-se mano, o que é que estás a ouvir?!” Da esquerda, a resposta: “Mano, estão a mandar-me vídeos de uma discoteca em Évora!” Aconteceu há meses, mas às vezes ainda penso nisto.
-
Jornadas da Juventude
Lisboa, Agosto de 2023.
Hoje é a primeira de várias tardes em que um enorme palco das Jornadas Mundiais da Juventude me vai moer o juízo. Na rua já me irritei com um grupo de peregrinos que ocupava a totalidade do passeio, sem abrir caminho. “Foda-se!” O que me incomoda especialmente nestes otimistas católicos é o seu ar minado, de olhos brilhantes e pupilas dilatadas. Não sei se é mais desconcertante ver esse olhar nos novos ou nos velhos, pois cada um deles é inquietante à sua maneira.
No geral, toda a “cultura” deste evento é imensamente plástica. A música, em particular, é o expoente máximo da neutralização de toda a substância criativa e viva do objeto violado. Rock, Hip Hop, música de dança: replicam-se os mais elementares gestos, substituindo o conteúdo por uma pasta homógenea que não tem sequer um traço da orientação espiritual que é suposto ostentar. Existem bons exemplos de música religiosa, mas este não é um deles. A música cristã de grandes eventos deixou-se apanhar pela sofisticação das suas paródias, e hoje elas são praticamente inextinguíveis. Talvez para um ateu este seja o aspeto mais desconcertante de todo o evento: parece mesmo que é a gozar.
As JMJ vieram reanimar os meus mais fortes sentimentos anti-religiosos, que nos últimos anos haviam até esmorecido. Um dos motivos (e não irei listar todos aqui) é a forma como os defensores do evento (em particulare, as figuras do Estado) insistem em falar na primeira pessoa do plural, afirmando que “nós (lisboetas) aceitámos os sacrifícios” para mais tarde colher as recompensas. De que sacrifício falam? O caos na cidade, a despesa pública, a hipocrisia moral? E quem somos “nós” afinal? Nenhum de “nós” aceitou nada pois a hipótese de rejeitar nunca existiu, como nem sequer existiu a pergunta. As JMJ não foram propostas, foram impostas. Pior que o argumento em si é a aceitação cega e muda desta falácia. Não ouvi um jornalista desafiar essa ideia nas muitas vezes que ela foi avançada por um partidário do certame.
Nos últimos anos vim a crer num ressurgimento da espiritualidade religiosa. Um regresso a Deus. Por outras palavras, que os jovens iriam voltar a tender para a religião, fruto de sucessivas desilusões com a democracia, a ciência, a economia e o próprio “eu”. Deus é uma resposta óbvia numa crise espiritual, e eu acho que estamos a atravessar uma dessas. Ter as JMJ na minha cidade é uma coincidência “feliz” que acabou por trazer à minha porta esses dois assuntos que me interessam: juventude e espiritualidade. No entanto, o ressurgimento da religião entre os jovens não deve estar aqui, nesta estrutura antiquada e repulsiva. O ressurgimento, para ser jovem, terá de ter pelo menos a vaga forma, senão mesmo a intenção sincera, de uma procura pela dissidência. Uma religião radicalizada, ilustrada pela proximidade ideológica evidente entre um incel tradcath (termos da internet para “virgem católico tradicionalista”) e um talibã. Nas JMJ não há sequer um vislumbre de dissidência. Pelo contrário, estamos no divino reino da submissão total. Um grande espetáculo de números, sem dúvida. Mas não esconderão eles uma ruína que nem um Papa notavelmente moderno e intelegente pode resgatar? Para esta velha Igreja, talvez a descrença não seja a maior inimiga. Na política, o radicalismo populista de direita foi capaz de abalar o consenso democrático e pôr em causa conquistas sociais dadas como garantidas. Ainda que inspirada pelo reacionarismo histórico e poeirento do fascismo clássico, esta é uma nova política – imprevisível, delirante, muitas vezes em confronto com a própria realidade. A cruzada das religiões organizadas, em particular da Igreja Católica, defronta-se com a mesma paranóia incerta do século XXI, com uma consciência humana levada aos limites pelo acelerar da degradação das condições da vida material e espiritual. Para lá da propaganda vista em Lisboa, pode haver mesmo um retorno à Fé, mas a maneira de crer não será a mesma.