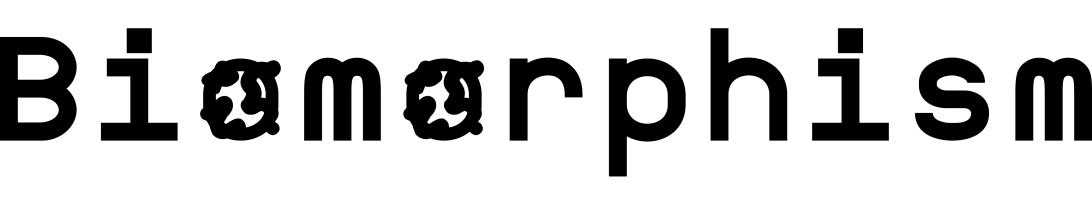Revisão de literatura do meu projeto de mestrado em Antropologia (Culturas Visuais) na FCSH-NOVA, denfendido em 2021. Destaco esta parte do texto pois nela relacionei uma série de referências e conceitos da antropologia, do design e dos estudos da Internet. Estes cruzamentos foram muito e importantes para mim e acho que podem ser úteis a outras pessoas que investigam ou se interessam por estes temas. No meu projeto, procurei investigar etnograficamente a influência da utilização da Internet na prática contemporânea do design de comunicação. De forma mais geral, interessava-me estudar a produção da cultura visual dentro de um sistema económico e governativo caracterizado pela expansão global, e impacto local, do capitalismo neoliberal (Ganti 2014). Dentro do campo da cultura visual, concentro-me na disciplina do design de comunicação por ser uma prática que se dedica a produzir imagens do, e para o mundo, que não servem apenas uma função estética, comunicativa ou simbólica, mas participam na produção da própria ordem social (Appadurai 2013). Em confronto com a prática do design de comunicação coloco a Internet, entendida numa aceção holística enquanto campo, sítio, meio e plataforma. O restante relatório do projeto, que consistiu num workshop com estudantes de design, pode ser descarregado no fim desta página.
O design e o fazer

A ligação entre a antropologia e o design está documentada num vasto corpo de literatura. Identificaremos aqui apenas algumas correntes de pensamento e visões antropológicas sobre a disciplina do design. Keith Murphy (2016) procurou sistematizar esta ligação em três fórmulas distintas:
- antropologia do design (na qual o design é posicionado como objeto de estudo etnográfico);
- antropologia para o design (na qual os métodos e conceitos antropológicos são mobilizados no processo de design);
- design para a antropologia (no qual os conceitos e métodos do design são usados pelos antropólogos para expandir as formas etnográficas tradicionais).
Num esforço semelhante, Caroline Gatt e Tim Ingold (2013) afirmam que o design é parte do mundo a transformar-se e definem duas aproximações da antropologia: uma no espírito do universal (contemplando uma capacidade humana para projetar); outra no espírito descritivo da etnografia (contemplando um modo particular de conhecimento, o design profissional).
As três formulações de Murphy (2016) partilham entre si uma tentativa de encarar as implicações morais das intervenções humanas na vida de outros seres humanos e as duas formulações de Gatt e Ingold (2013) apontam para uma visão do ser humano enquanto fazedor que não é estranha à antropologia. Estas noções destacam a capacidade ancestral do ser humano em projetar. Arjun Appadurai (2013) afirma que o próprio mundo social, até nas sociedades mais simples, é projetado e construído, ele próprio fruto de um design quotidiano que é a base sobre a qual se desenvolve o design profissional e especializado. Neste design quotidiano encontramos a expressão da criatividade sob a forma de improvisação (Ingold e Hallam 2007). Através dela podemos ler a criatividade “para a frente”, seguindo os fluxos da materialidade onde decorre a ação dos participantes e valorizando a abertura dos processos sobre o fechamento dos resultados (Ingold 2009).
Podemos, então, distinguir dois tipos de design: um design informal do quotidiano, responsável pela construção constante do mundo social e por manter a vida em curso; e um design profissionalizado, apoiado e legitimado pelas suas próprias infraestruturas e instituições. No estudo deste segundo design, Wendy Gunn e Jared Donovan (2012) identificam um projeto emergente com quatro áreas de interesse: as trocas e a pessoalidade na produção e uso da tecnologia, o conhecimento da prática qualificada, a antropologia dos sentidos e a estética do quotidiano. A construção da vida social e a interação humana com a tecnologia são temas transversais da antropologia do design que podem ser questionados prestando atenção etnográfica às condições concretas do trabalho em design e às dinâmicas específicas do trabalho de estúdio (Murphy 2016).
O estúdio de design apresenta os seus próprios desafios à etnografia. Invocando-o como fonte de inspiração metodológica para a renovação da prática etnográfica, Keith Murphy e George Marcus (2013) afirmam que design e etnografia apresentam semelhanças importantes, como serem ambos produto e processo, focados na pesquisa, centrados nas pessoas, ao serviço de algo além do objeto imediato e abertos à reflexão. Por outro lado, distinguem-se por enfrentarem diferentes contingências económicas e problemas éticos, por terem uma relação diferente com os objetivos (o design depende deles, a etnografia é mais aberta), com a criatividade (o design é mais criativo, a etnografia é mais documental), com o trabalho colaborativo (a etnografia é mais solitária) e por serem construídos e apoiados por infraestruturas pedagógicas bastante diferentes.
Para a prática etnográfica, uma das particularidades mais produtivas do trabalho em design é a sua produção e multiplicação “artefactos”, entidades físicas ou digitais que podem mediar o processo de interrogação antropológica (Wallace 2012). Estas entidades – imagens, desenhos, gráficos, maquetas, etc. – ajudam os investigadores a contactar com os múltiplos espaços, participantes e contextos que configuram o processo de design dinâmico onde elas circulam. Indo mais longe, o contacto da antropologia com o design não precisa de se limitar à importação de métodos ou à observação e rastreio da sua materialidade. Joachim Halse (2013) propõe que a antropologia se aproprie do próprio objeto de inquérito do design, aquilo que não existe, o imaginário, e se oriente para a produção de “tecnologias da imaginação” em “momentos de design”. Nesta sua proposta, fala de “etnografias do possível”, uma forma de materializar as ideias e especulações das pessoas, capaz de ligar a imaginação às suas formas materiais e de criar artefatos que permitam aos participantes revitalizar os seus passados, refletir sobre o presente e extrapolar para futuros possíveis.
Estes cruzamentos, independentemente da sua configuração particular, tendem a encaminhar as práticas etnográficas para soluções de ação, colaboração e participação (Murphy 2016). Segundo Paul Sillitoe (2018), as abordagens desta natureza privilegiam a integração informada das perspetivas e interesses das comunidades no desenho do projeto etnográfico, mas também acarretam o risco de se apoiarem em interações rápidas que não são capazes de devolver a profundidade de conhecimento necessária para compreender determinadas situações locais. Fazendo referência ao que um conjunto de antropólogos chama critical design ethnography, vemos que a investigação participativa encarrega o investigador de produzir uma descrição detalhada convencional ao mesmo tempo que conduz uma agenda clara de empoderamento dos grupos ou indivíduos – por exemplo, promovendo a autorreflexão dos sujeitos – uma posição controversa dentro da antropologia, que se torna mais complicada quando, no campo do design, é reificada em objetos (Barab et al. 2004).
Alguns antropólogos sugerem que o cruzamento da etnografia com o design numa lógica de participação e colaboração pode ser clarificado pelo recurso ao conceito de “correspondência” como foi explorado por Tim Ingold. Para Gatt e Ingold (2013), uma antropologia por via da etnografia é uma prática de descrição, enquanto que uma antropologia por via do design é uma prática de correspondência, que procura responder às vidas que segue. A antropologia de correspondência por via do design valoriza tudo aquilo que é produzido durante o trabalho de campo, atribuindo-lhe um valor igual ou maior ao do texto etnográfico documental produzido posteriormente. Podemos entender esta correspondência à luz da colaboração entre designers e antropólogos no trabalho de campo, definida por Mette Kjærsgaard e Ton Otto (2012) como um esforço de estudo, reflexão, conceptualização e experimentação em torno de potenciais relações humanas, práticas e objetos.
Vemos, então, que a antropologia encontra no design chamado profissional traços da capacidade humana ancestral para projetar (Murphy 2016), em particular para projetar a vida em sociedade e o futuro, ele próprio um facto cultural em disputa (Appadurai 2013b). Desta forma, podemos entender a disciplina do design como um campo propício ao estudo de fenómenos sociais emergentes, onde a imaginação humana ganha formas potenciais e concretas (Halse 2013). Vemos também que a etnografia tem uma moldura de trabalho adequada para observar o fluxo de ideias, relações e materialidades do processo de design (Murphy e Marcus 2013), ao mesmo tempo que se pode enriquecer adotando metodologias e práticas desse mesmo processo, correspondendo com ele através da colaboração com os praticantes no trabalho de campo (Gatt e Ingold 2013). Seguiremos esta linha de pensamento de uma antropologia dos fenómenos emergentes apoiada por uma etnografia por via do design. Encontraremos contributos importantes para este projeto na exploração do conceito de “antropologia do contemporâneo”. Veremos ainda como ele se relaciona com o estudo das tecnologias digitais, em particular da Internet (Budka 2011), um desenvolvimento tecnológico profundamente transformador das práticas, relações e perceções humanas (Miller 2017), algo que pode ser observado também na prática contemporânea do design (Laranjo 2016).
O digital, a Internet e o contemporâneo

Elisenda Ardèvol & Dèbora Lanzeni (2017) traçam uma teia de relações entre a etnografia, o design e o digital. Enunciando um caráter dinâmico dos fenómenos digitais, afirmam que ao juntar a etnografia do digital com a etnografia do design são destacadas as formas como a etnografia do contemporâneo pode acompanhar as coisas e processos em curso e em formação. Esta proposta apresenta o digital como algo inacabado, focando-se em processos construtivos e constitutivos da tecnologia e da forma como esta se cruza com o desenrolar da vida humana. Isto remete-nos para a etnografia multi-situada descrita por George Marcus (1995), na qual se estabeleceu a condição global como uma dimensão emergente transformadora da disciplina da antropologia. O foco dinâmico nos processos, em oposição a um olhar fixo sobre o local, permite ao etnógrafo acompanhar os movimentos típicos da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, o estudo do digital situa-se claramente dentro de alguns campos identificados por Marcus como sendo importantes nesta nova formulação das relações entre o local e o global – os estudos dos média, da tecnologia e da cultura.
Entre as tecnologias digitais, nenhuma é mais característica da condição contemporânea de um mundo globalizado do que a Internet. Definir a Internet é um desafio complicado pela complexidade e variedade de manifestações físicas e não-físicas da mesma, mas para o efeito desta investigação podemos restringir-nos a uma explicação simples como esta do jornal generalista britânico The Guardian:
«A internet é a rede alargada que torna possível o contacto entre redes de computadores à volta do mundo, dirigidas por empresas, governos, universidades e outras organizações. O resultado é uma massa de cabos, computadores, centros de dados, routers, servidores, repetidores, satélites e torres de wi-fi que permite à informação digital viajar à volta do mundo» (Sample 2018).
Esta definição geral é-nos útil porque destaca o facto de que o online, amiúde imaginado como um espaço abstrato onde circulam objetos sem corpo, é, antes de mais, uma infraestrutura material e física. Esta constatação encontrará ecos na forma como a antropologia – por exemplo, a antropologia do ciberespaço ou a antropologia do digital – procura estabelecer relações entre os mundos “reais” e “virtuais”, como veremos mais à frente.
Philipp Budka (2011) encontra paralelos entre a antropologia do ciberespaço e do digital e a antropologia do contemporâneo, um conceito inicialmente explorado por Marcus. Budka evoca este conceito para propor uma abordagem etnográfica inter e transdisciplinar às questões do emergente na sociedade global, citando Rabinow e Marcus quando estes defendem que:
«O contemporâneo não está particularmente interessado pelo “novo” ou com distinguir-se da tradição. (…) O “contemporâneo” indica um modo de historicidade cuja escala é relativamente modesta e cujo alcance é relativamente limitado» (Rabinow e Marcus 2008).
E que:
«O que é atualizado ou emergente nada tem a ver com qualquer tipo de totalidade, mas antes com a combinação de diferentes elementos, uma amálgama que cria novas conjeturas que conduzem a dinâmicas novas ou, pelo menos, diferentes» (Rabinow e Marcus 2008).
Resumindo, vemos que a antropologia dos fenómenos digitais num mundo globalizado, e em particular a antropologia da Internet, pode ser aliada a uma antropologia do, e por via do, design para interrogar alguns dos mais pertinentes movimentos de transformação da vida humana na contemporaneidade. Essa junção interdisciplinar pode melhor ser entendida à luz do conceito de “antropologia do contemporâneo”.
A Internet em si é um fenómeno emergente e subjetivo da revolução digital, cujas transformações sociais levarão várias décadas até serem compreendidas. Aqui é importante considerar que conceitos como o virtual, o digital ou o online não existem à parte de uma suposta realidade material, mas são parte da mesma – os comportamentos online estão marcados pelas circunstâncias offline dos utilizadores (Hart 2004). A vida doméstica e quotidiana é, assim, um espaço privilegiado para observar algumas das transformações mais profundas que a tecnologia provoca nas vidas dos seres humanos. Os novos meios tecnológicos presentes no espaço doméstico, em particular os dispositivos que permitem o acesso à Internet, funcionam como portais de acesso à vida social e cultural que extravasam as paredes da casa e assim efetuam uma ligação contínua entre as esferas privada e pública (Horst 2012). A antropologia tem a capacidade acompanhar as mudanças trazidas por esta nova realidade, prestando atenção às transformações prolongadas, às relações estabelecidas e às lógicas relacionais, particularmente na produção dos mundos mediáticos dos indivíduos, comunidades e grupos.
«Enquanto as perguntas de pesquisa podem mudar e nós podemos integrar novos materiais e análises – desde visualizações, uso de perfis e outras possibilidades do digital – o foco na experiência da vida quotidiana e nas maneiras como ela está intrinsecamente conectada com o panorama geral continua a ser a perspetiva particular da antropologia e do seu contributo para a nossa compreensão da humanidade» (Horst 2012).
Daniel Miller (2017) considera que a Internet é um espaço onde vivemos atualmente e não uma oposição ou alternativa à realidade. De um ponto de vista antropológico, a Internet representa hoje os mundos “exóticos” que sempre fascinaram a antropologia. Miller defende que o aparelho teórico-prático da disciplina do design pode ajudar os antropólogos a perceber as formas como o online é domesticado e apropriado, tornando-se parte integral do quotidiano e da experiência humana. O mesmo autor chega a três ideias acerca do papel abrangente da antropologia digital:
- É necessária uma atenção às forças opressivas emergentes, prestando igual atenção e respeito às experiências das pessoas no seu quotidiano (que não são necessariamente negativas, ou entendidas como tal);
- O compromisso antropológico acontece a longo curso e, mesmo que se debruce sobre considerações morais, deve registar e tentar perceber esses debates, não se limitando a reafirmar as posições do investigador;
- A antropologia deve ser uma disciplina que abraça a contradição e a reconhece a todo o momento, percebendo que as tecnologias digitais podem ter efeitos negativos e positivos, muitas vezes em simultâneo.
Miller (2018) conclui, então, que a antropologia digital, que tanto considera o uso como as consequências, é também um estudo daquilo em que as pessoas e a humanidade se estão a tornar.
Assumindo que a Internet é um espaço que habitamos e uma dimensão integrante do que entendemos como o real, percebemos que nela se manifestam fenómenos antropológicos que antecedem a revolução digital e que, simultaneamente, esta exerce um poder transformativo sobre a sociedade. Exemplo disso é a constatação de que a Internet produz um habitus nos seus utilizadores (Julien 2015). O conceito de habitus foi avançado por Pierre Bourdieu, que o caracterizou como «um sistema subjetivo mas não individual de estruturas, esquemas de perceção, conceção e ação comuns a todos os membros de um grupo ou classe, constituindo a condição prévia para toda a objetificação e aperceção» (Bourdieu 2013).
A abordagem relacional de Bourdieu aos fenómenos sociais revela-se particularmente útil em estudos do online que o entendem como um espaço real no qual existimos, evidenciando desde logo a natureza das desigualdades, que não só se reproduzem com o uso da Internet mas são acentuadas por ele (Robinson 2009). Gabe Ignatow e Laura Robinson (2017) afirmam que os conceitos interrelacionados de campo, capital e habitus teorizados por Bourdieu se tornaram centrais em abordagens das ciências sociais a fenómenos de desigualdade e estratificação. Esta abordagem conceptualiza a ação social como ocorrendo dentro de um espaço social feito de campos que se intersetam, condicionando e constrangendo o comportamento dos indivíduos e moldando as suas motivações. A natureza relacional da realidade mostra como fenómenos sociais aparentemente distintos estão, na verdade, interrelacionados e entrelaçados.
Para Bourdieu (1986), a lógica de acumulação de capital – originalmente categorizado como podendo ser “económico”, “social” ou “cultural” – está na base da estruturação do mundo social e do seu funcionamento. De forma a entender a estrutura social, é necessário contemplar as formas de capital que vão além da visão puramente mercantilista da teoria económica em que a forma económica do capital é apresentada como “interessada”, em contraste com outras formas de capital (por exemplo, geradas pela arte e pela cultura) que são descritas como “desinteressadas”. Diferentes etnografias mostram como esta teoria pode ser expandida para incluir a produção e conversão de um capital informativo ou digital através do uso da Internet (Robinson 2011). Por exemplo, os memes – artefactos digitais repetidamente usados na Internet, cuja existência varia dentro de modelos – são habitualmente vistos como humor trivial, quando na realidade desempenham importantes funções sociais para quem os usa, tendo no centro uma natureza instável e amplamente disputada (Nissenbaum e Shifman 2017). A relevância dos memes como uma forma de comunicação e afirmação social constitutiva na contemporaneidade pode também ser vista à luz desta passagem de Julien (2015):
«A mais clara indicação de um habitus digital é a prevalência do meme acerca de um evento atual. Neste tipo de meme, eventos recentes do mundo são interpretados através da criação de memes e da linguagem particular da Internet; por outras palavras, o habitus digital, que nasceu do capital social digital no campo da Internet, conduz a uma determinada perceção do mundo físico» (Julien 2015).
Esta última sequência de texto indica, de forma muito superficial, o impacto transformativo da Internet na sociedade, disputando a separação entre real e virtual. A pertinência de Bourdieu neste projeto de investigação advém de ele nos dirigir à prática – uma prática da Internet que vai transformar o mundo à sua volta e transformar-se com ele. Serve também este universo conceptual para enriquecer a nossa interrogação do design contemporâneo, ele próprio profundamente transformado pela disseminação das novas tecnologias digitais e em particular da Internet. Seguimos esse curso sabendo que, para realmente compreender o impacto da Internet no design e, consequentemente, na produção do mundo social, teremos de olhar não só para o seu papel na esfera técnica, criativa e profissional, mas também na esfera doméstica e quotidiana, pois é nesta totalidade das práticas que se produz o habitus. Terminaremos a construção deste guarda-chuva teórico da nossa etnografia com um olhar sobre os estudos do neoliberalismo, força política e social que considero ser aqui de referência incontornável pela sua relevância para os fenómenos da globalização, e para o conceito de estrutura de sentimentos, que nos permitirá ter em consideração as materializações e imaginações deste habitus da Internet.
Estruturas de sentimentos: dark moods e imagens da good life

Como um prelúdio alargado ao subtema deste ponto – as estruturas de sentimento – faremos um breve resumo de algumas perspetivas sobre um processo global e globalizador específico: o neoliberalismo, ou a neoliberalização do mundo. A literatura referida à frente defende que o neoliberalismo se configura como uma omnipresente força política e social que continua a transformar a constituição do indivíduo e das suas práticas sociais, sendo assim importante para compreender qualquer fenómeno emergente. Não quero, com isto, afirmar que apenas pelos estudos do neoliberalismo podemos aceder ao conhecimento sobre o papel da Internet na produção do habitus, no design ou fora dele. Considero, contudo, que é sob o manto das reformas neoliberais instituídas no ocidente, e depois “exportadas” para o resto do mundo, que encontramos alguns pontos de charneira da transformação da sociedade contemporânea.
David Harvey define o neoliberalismo como sendo:
«(…) numa primeira instância, uma teoria da política económica que propõe que a melhor maneira de alcançar o bem-estar humano é liberalizando as liberdades e capacidades de empreendimento individual dentro de uma moldura institucional caracterizada por direitos de propriedade individual robustos, mercados livres e trocas livres» (Harvey 2005).
Expandindo essa definição, o autor identifica um processo global de neoliberalização, denotando uma subjugação progressiva de estados e territórios a esta formulação política e económica. Nesse processo acontece uma “destruição criativa” de normas, instituições e relações sociais e laborais, cuja expansão geográfica depende em grande parte do desenvolvimento e controlo das tecnologias de informação (Harvey 2005).
O neoliberalismo enquanto moldura de trabalho na antropologia aproxima-se dos conceitos de globalização e sistema-mundo, mas revela «uma narrativa muito mais obscura, a história de uma cruzada alimentada pela ideologia e/ou o ódio para inclinar a economia política mundial ainda mais a favor das classes e nações dominantes» (Ortner 2011). Se a questão das desigualdades digitais é uma janela para os fenómenos offline que são reproduzidos e amplificados online, um olhar sobre o neoliberalismo é uma janela para as formas particulares da desigualdade no nosso tempo. Formas essas que são, numa perspetiva marxista, suportadas por um esforço ao nível da superestrutura (Marx 2008), ou do “discurso”, como aponta Bourdieu:
«(…) o discurso neoliberal não é apenas mais um discurso entre muitos. Em vez disso, é um “discurso forte” (…). É tão forte e tão difícil de combater apenas porque tem do seu lado todas as forças de um mundo de relações de forças, um mundo que é o que é fruto do seu próprio contributo. Notavelmente, isto acontece porque ele orienta as escolhas económicas daqueles que controlam as relações económicas. Dessa forma, acrescenta a sua própria força simbólica a estas relações de forças. Em nome deste programa científico, convertido num plano de ação política, está em curso um imenso projeto político, embora o seu estatuto enquanto tal seja negado porque aparenta ser puramente negativo. Este projeto tem como objetivo criar as condições sob as quais a “teoria” pode ser concretizada e funcionar: um programa para a destruição metódica dos coletivos.» (Bourdieu 1998)
De forma a recentrar a importância do neoliberalismo na antropologia, podemos novamente articular Bourdieu com Sherry Ortner, quando esta afirma que:
«As etnografias (…) dão profundidade, riqueza, complexidade, humanidade, até humor, de forma a dar vida às descrições abstratas da “restruturação económica” e da “polarização da riqueza”. Mas acima de tudo (…) as etnografias lembram-nos que as pessoas vivem em mundos de significados e também de condições materiais» (Ortner 2011).
E podemos também ler Carol Greenhouse, quando esta defende que os limites do neoliberalismo são acessíveis através da etnografia, resumindo desta forma a importância desse contacto:
«Com a sua valorização do individual, a sua preferência pelos mercados sobre os direitos como uma base para a reforma social, e a sua remoção do estado do setor dos serviços, o neoliberalismo sobrepõe às velhas noções do público baseado em solidariedade orgânica uma forte camada mecânica – como uma melhoria, ou modernização, de elos sociais mais tradicionais. Perceber esta inversão é crucial para entender a natureza das questões interpretativas às quais o neoliberalismo dá origem na vida quotidiana, uma vez que as reformas neoliberais moldam a relação entre a sociedade e o estado, eliminando o que existia antes» (Greenhouse 2010).
Tejaswini Ganti (2014) identifica duas configurações do neoliberalismo em contexto antropológico: como uma força estrutural que afeta a vida das pessoas e como uma ideologia governativa que dá forma às subjetividades. Tendo em conta essas duas visões, a antropologia permite ter uma noção do desenvolvimento global da política económica a partir de diferentes geografias, mas ao mesmo tempo corre o risco de ofuscar algumas particularidades locais. Ilana Gershon (2011) convoca um “regresso” ao discurso antropológico sobre a cultura para poder estudar o neoliberalismo em etnografias que vão além da sua mera contextualização num determinado local. Para a autora, o problema reside na agência neoliberal, que transforma os indivíduos em projetos corporativos e acumulações de capacidades profissionais (“skills”), uma condição que se torna insustentável no momento de construir relações sociais duradouras – é por isso preciso interagir com a agência e moralidade neoliberais através da imaginação antropológica.
A conceção do ser humano enquanto uma cápsula de skills leva-nos de volta a Bourdieu, omnipresente na literatura sobre o tema, em particular no campo da educação, que é aqui particularmente relevante. Bonnie Urciuoli (2010) defende que esta reconstituição neoliberal do indivíduo decorre, em grande parte, nos espaços do ensino, particularmente as universidades, que envolvem os alunos numa lógica neoliberal de preparação para o mercado de trabalho e para um futuro onde o valor de cada cidadão é definido pela sua produtividade, alcançada através do uso de skills. Recorrendo a outros autores e ao seu próprio contacto com estudantes do ensino superior, afirma que estas lógicas estão a ser internalizadas – o discurso neoliberal no ensino está a funcionar. Referindo-se às contradições inevitáveis de quem, dentro da Academia, critica a corporização da vida intelectual e académica ao mesmo tempo que reproduz o discurso neoliberal, a autora conclui:
«Tais contradições ilustram a hegemonia do imaginário neoliberal – as pessoas podem não gostar de como as coisas são, mas não questionam os seus termos nem veem uma alternativa. O valor particular de análises influenciadas pelo discurso etnográfico é a sua capacidade para demonstrar as maneiras específicas como o neoliberalismo se instalou e se estabeleceu enquanto a forma como as coisas são, saturando as crenças e práticas académicas contemporâneas» (Urciuoli 2010).
A ausência de alternativas em vista, que pode ser também uma ausência generalizada de esperança no futuro (Miyazaki 2010), remete-nos para o conceito de “hipernormalização”, avançado por Alexei Yurchak para descrever um momento particular da história da União Soviética, no qual a população tinha a consciência de que o regime e a sua construção social iriam cair mas, não conhecendo realmente uma alternativa, não era capaz de imaginar a sua queda, e assim imaginava-os como virtualmente infinitos (Yurchak 2005). Mais recentemente, o mesmo conceito foi explorado pelo documentarista britânico Adam Curtis no filme HyperNormalisation, onde se argumenta que uma semelhante situação está em curso no seio do capitalismo tardio, em particular nos Estados Unidos e na União Europeia: se é evidente que o sistema está a ruir, na aparente ausência de alternativas, as pessoas ultrapassam essa evidência e mantêm uma espécie de fé cega no status quo (Curtis 2016).
Não é objetivo desta investigação averiguar a situação da esperança na sociedade contemporânea, nem adivinhar o futuro da ordem capitalista neoliberal à volta do globo, mas interessa-nos tomar nota da mudança social em curso decorrente destes fenómenos. Isto porque teremos uma melhor imagem das transformações trazidas pela revolução digital se tivermos em conta a substância política ocultada pela sua aparente neutralidade tecnológica. Por outras palavras, a Internet transforma a sociedade e o indivíduo, tal como o neoliberalismo. Sabemos que a relação entre ambos é forte, uma força motora da globalização, e por isso não ignoramos a sua simbiose – trazemo-la para a frente. Para esse efeito, viramo-nos para a cultura, onde as marcas dessa mudança podem ser mapeadas através das chamadas “estruturas de sentimentos”, um conceito proveniente da crítica literária, desenvolvido por Raymond Williams, para analisar questões de estilo, afetividade e formação cultural. Esta ferramenta teórica é particularmente interessante porque centra a sua atenção na mudança social e política decorrente da articulação de alternativas às visões dominantes do mundo (Filmer 2003). Trata-se, então, de um olhar para o emergente e, numa moldura de trabalho que considera o potencial transformador do neoliberalismo, uma importante consideração sobre formas de adesão e resistência à ordem social, ao poder e ao discurso cultural dominante.
«[o conceito de estrutura de sentimentos] foi invariavelmente aplicado como uma maneira de formular a realidade das experiências sociais (…) que estão a ser vividas e que, por isso, não são ingénuas nem experiencialmente inocentes, mas que, apesar de emergentes, ainda não alcançaram o reconhecimento coletivo que irá assinalar a sua institucionalização enquanto formações sociais» (Filmer 2003).
O que interessa a Williams no que diz respeito a estas estruturas de sentimentos é o fenómeno da experiência vivida, o sentimento e a perspetiva dos participantes sobre a cultura. Para estudar essa dimensão sentimental, propõe que se adicione às infraestruturas sociais e materiais a consideração de uma infraestrutura afetiva, sendo aqui o afeto entendido como «a infraestrutura delicada que regula as nossas propensões e modos de pertença e participação em situações sociais» (Sharma e Tygstrup 2015). A atenção à maneira como a cultura é continuamente reproduzida através da interação entre formas e práticas do quotidiano e as instituições e relações do poder obriga a dois movimentos interligados: uma mudança do foco no estável e reconhecido para um foco no imediato e emergente; e um esforço para tratar o imediato e o emergente enquanto fenómenos sociais sérios, que podem e devem ser teorizados. No centro desta «hipótese cultural», que permite definir formas e convenções da arte enquanto «elementos inalienáveis do processo social e material», estão
«(…) elementos de impulso, constrangimento e tom; especificamente elementos afetivos da consciência e das relações: não sentimentos contra o pensamento, mas o pensamento como sentido e o sentimento como pensamento: consciência prática do tipo presente, numa continuidade vivida e interrelacionada» (Williams 2015).
Lauren Berlant (2011) operacionaliza este conceito de estruturas de sentimentos no seu livro Cruel Optimism, no qual se debruça sobre as marcas culturais de um presente onde acontece «a transformação do evento afetivo em matéria histórica e o improviso do género no meio da incerteza persistente», demonstrando que as manifestações estéticas ou formais dos afetos evidenciam a existência de um processo histórico. Olhando para a produção cultural e as estruturas de sentimento emergentes desde o pós-Guerra no ocidente, a autora mobiliza os conceitos de “cruel optimism” e “good life” em relação à arte, à literatura ou à cultura pop. «Uma relação de otimismo cruel existe quando algo que desejamos é, na verdade, um obstáculo à nossa prosperidade». Berlant pergunta porque é que as pessoas se agarram a fantasias da boa vida (good life), quando abundam provas da sua instabilidade, fragilidade e custos insuportáveis. Porque sobrevivem estas fantasias e o que acontece quando começam a ruir? Entre as fantasias da boa vida Berlant nomeia a mobilidade de classe, a garantia de emprego, a igualdade política e social e a intimidade vívida e duradoura. Estas promessas da sociedade capitalista e liberal do pós-Guerra são postas em causa pelo vulgar (ordinary), que se torna numa acumulação constante de crises (ou numa crise sistémica). Distinguindo-se dos estudos da vida quotidiana, a autora afirma estar interessada não no quotidiano organizado pelo capitalismo, mas no quotidiano desorganizado por ele. Muito importante nesta teoria é o reconhecimento da capacidade dos seres humanos se agarrarem à vida e ao otimismo até nas mais extremas situações de sofrimento e opressão, preservando e fazendo uso da sua agência:
«Até aqueles que poderíamos imaginar como derrotados são seres vivos a descobrir como se podem manter ligados à vida por dentro dela e a proteger qualquer otimismo que tenham, pelo menos, para esse efeito. A descrição profética de Marcuse da sociedade norte-americana no pós-Guerra mapeia esta ideia: ao mesmo tempo que as pessoas se confortam com histórias sobre derrotar o sistema ou ser derrotado por ele, elas “continuam a lutar pela existência em formas dolorosas, dispendiosas e obsoletas”» (Berlant 2011).
Voltamos a encontrar-nos com Ortner na sua leitura da teoria antropológica desenvolvida desde os anos 1980 face à disseminação do neoliberalismo (Ortner 2016). É nesta década que a disciplina da antropologia ganha uma maior consciência da necessidade de estudar questões de poder e desigualdade. Daí surge a ascensão daquilo a que a autora chama dark anthropology, que enfatizou a natureza dura, violenta e punitiva do neoliberalismo, reconhecendo a depressão, pessimismo e desespero resultantes dos processos globais de neoliberalização. Como reação à ascensão da dark anthropology, terá surgido uma anthropology of the good, focada nas ideias do “bom”, da moralidade e da ética (novamente a good life), e que, na opinião da autora, deve ser sempre conciliada com a realidade política do poder e da desigualdade. Por fim, nesta genealogia são identificados os novos trabalhos sobre resistência e ativismo, onde se situa a crítica cultural, o trabalho teórico e etnográfico sobre o sistema capitalista, o estudo etnográfico dos movimentos sociais e a antropologia da resistência.
Subjacente a toda a análise de Ortner neste texto, mas sobretudo no que diz respeito à última configuração (os novos trabalhos sobre resistência e ativismo), está uma profunda valorização do campo da prática, em particular na sua visão bourdieusiana – «se construímos o mundo através da prática social, também o podemos desconstruir e reconstruir através da prática social». É desta prática que resultam duas marcas culturais que serão fundamentais em toda esta investigação: os dark moods (estruturas de pensamento sombrias) e imagens da good life (ideações positivas da ética e da moralidade). Referindo-se à forma como Ortner encara a resistência ao neoliberalismo, Appadurai afirma que ambas as marcas culturais mencionadas – ou dito de outra forma, tanto as visões otimistas do mundo como as pessimistas – têm de ser reconhecidas numa antropologia que entenda a «resistência como um facto cultural», algo que pode ser simultaneamente oposição e participação idealizada no neoliberalismo (Appadurai 2013b).
Três questões

O percurso traçado nesta revisão de literatura situa claramente esta investigação no campo da prática e dos fenómenos emergentes (o design), encarando forças sociais, políticas e tecnológicas transformadoras (a Internet e o neoliberalismo), e dirigindo o nosso olhar para as marcas culturais dessas transformações (as estruturas de sentimentos) para, em última análise, interrogarmos a agência humana na contemporaneidade.
Vimos que a disciplina do design pode dar à antropologia métodos e ferramentas que ampliam o alcance de um projeto etnográfico centrado nas formas como as pessoas produzem os seus mundos, imaginam os seus futuros e concretizam os seus projetos. Uma “antropologia do contemporâneo” ajuda-nos a entender como as tecnologias digitais se tornaram indispensáveis no nosso quotidiano e nos nossos processos de construção do futuro. Entre estas tecnologias encontra-se a Internet, na qual antropólogos e sociólogos identificam uma capacidade de produzir um habitus nos utilizadores. O habitus da Internet passa, então, a integrar os modos de vida dos seus utilizadores. A forma como essa integração acontece e as consequências da sua integração podem ser relacionadas com as lógicas neoliberais que modelam o ensino, o trabalho e a vida social desde o pós-Guerra, inicialmente no ocidente, e depois noutras geografias. Estes factos podem ser observados na forma como o habitus da Internet influencia a produção cultural de estruturas de sentimentos. Deparamo-nos com um fenómeno (a produção do habitus pela Internet), um campo de estudo (a prática do design), e uma moldura teórica geral que podem ser analisados numa etnografia do contemporâneo. Este trio de ideias remete, de forma geral, para a busca por conhecimento acerca da forma como as pessoas transformam e são transformadas pelo mundo contemporâneo.
Daqui emergem, a meu ver, três perguntas que orientam a prática etnográfica desta investigação:
- Existe um habitus da Internet no design contemporâneo?
- Se sim, este habitus da Internet manifesta-se na forma como os designers produzem e materializam estruturas de sentimentos?
- Como é que uma pesquisa desta natureza pode assentar sobre uma prática etnográfica influenciada pelo design?
Bibliografia
Appadurai, Arjun. 2013a. The future as cultural fact. Essays on the Global Condition. London: Verso Books.
Appadurai, Arjun. 2013b. «The Social Life of Design». The future as cultural fact. Essays on the Global Condition, 253–67. London: Verso Books.
Appadurai, Arjun. 2016. «Moodswings in the anthropology of the emerging future». HAU: Journal of Ethnographic Theory 6 (2): 1–4.
Ardèvol, Elisenda, e Dèbora Lanzeni. 2017. «Ethnography and the Ongoing in Digital Design». The Routledge Companion to Digital Ethnography, editado por Larissa Hjorth, Heather Horst, Anne Galloway, e Genevieve Bell. New York: Routledge.
Barab, Sasha a., Michael K. Thomas, Tyler Dodge, Kurt Squire, e Markeda Newell. 2004. «Reflections from the Field – Critical Design Ethnography: Designing for Change». Anthropology and Education Quarterly 35 (2): 254–68.
Berlant, Lauren. 2011. Cruel Optimism. Durham and London: Duke University Press.
Bourdieu, Pierre. 1986. «The forms of capital». Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, editado por John G. Richardson, 241–58. Westport: Greenwood.
Bourdieu, Pierre. 1998. «The essence of neoliberalism». Le Monde Diplomatique, n. 2: 1–6.
Bourdieu, Pierre. 2013. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Budka, Philipp. 2011. «From Cyber to Digital Anthropology to an Anthropology of the Contemporary». EASA Media Anthropology Network e-Seminar.
Coleman, E. Gabriella. 2010. «Ethnographic Approaches to Digital Media». Annual Review of Anthropology 39 (1): 487–505.
Curtis, Adam. 2016. HyperNormalisation. UK: BBC.
Filmer, Paul. 2003. «Structures of feeling and socio-cultural formations: the significance of literature and experience to Raymond Williams’s sociology of culture». British Journal of Sociology 2 (54): 199–219.
Ganti, Tejaswini. 2014. «Neoliberalism». Annu. Rev. Anthropol 43: 89–104.
Gatt, Caroline, e Tim Ingold. 2013. «From Description to Correspondence: Anthropology in Real Time». Design Anthropology. Theory and Practice, editado por Wendy Gunn, Ton Otto, e Rachel Charlotte Smith, ePDF, 139–58. London: Bloomsbury Academic.
Gershon, Ilana. 2011. «Neoliberal agency». Current Anthropology 52 (4): 537–55.
Greenhouse, Carol J. 2010. «Introduction». Ethnographies of Neoliberalism, editado por Carol J. Greenhouse, 1–10. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Gunn, Wendy, e Jared Donovan, eds. 2012. Design and Anthropology. EPDF. London: Ashgate.
Halse, Joachim. 2013. «Ethnographies of the Possible». Design Anthropology. Theory and Practice, editado por Wendy Gunn, Ton Otto, e Rachel Charlotte Smith, ePDF, 180–96. London: Bloomsbury Academic.
Hart, Keith. 2004. «Notes towards an anthropology of the internet». Horizontes Antropológicos 10 (21): 15–40.
Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Horst, Heather. 2012. «New Media Technologies in Everyday Life». Digital Anthropology, editado por Heather Horst e Daniel Miller, 61–79. London: Berg.
Ignatow, Gabe, e Laura Robinson. 2017. «Pierre Bourdieu: theorizing the digital». Information, Communication and Society 20 (7): 950–66.
Ingold, Tim. 2009. «The textility of making». Cambridge Journal of Economics 34 (1): 91–102.
Ingold, Tim, e Elizabeth Hallam. 2007. Creativity and Cultural Improvisation. Oxford: Berg.
Julien, Chris. 2015. «Bourdieu, Social Capital and Online Interaction». Sociology 49 (2): 356–
Kjærsgaard, Mette, e Ton Otto. 2012. «Anthropological Fieldwork and Designing Potentials». Design and Anthropology, editado por Wendy Gunn e Jared Donovan, ePDF, 177–91. London: Ashgate.
Laranjo, Francisco. 2016. «Automated Graphic Design». Modes of Criticism. 2016. https://modesofcriticism.org/automated-graphic-design/.
Marcus, George. 1995. «Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography». Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Marx, Karl. 2008. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular.
Mazzarella, William. 2004. «Culture, Globalization, Mediation». Annual Review of Anthropology 33 (1): 345–67.
Miller, Daniel. 2017. «Interior Decoration – Online and Offline». Design Anthropology: Object Cultures in Transition, editado por Alison J. Clarke, ? – 2018, 169–77. London: Bloomsbury Academic.
Miller, Daniel. 2018. «Digital Anthropology». Cambridge Encyclopedia of Anthropology, editado por Felix Stein, Matei Candea, Sian Lazar, Hildegard Diemberger, Joel Robbins, Rupert Stasch, e Andrew Sanchez, 1–16.
Miyazaki, Hirokazu. 2010. «The Temporality of No Hope». Ethnographies of Neoliberalism, editado por Carol J. Greenhouse, 238–50. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Murphy, Keith M. 2016. «Design and Anthropology». Annual Review of Anthropology 45 (1): 433–49.
Murphy, Keith M., e George E. Marcus. 2013. «Epilogue: Ethnography and Design, Ethnography in Design… Ethnography by Design». Design Anthropology. Theory and Practice, editado por Wendy Gunn, Ton Otto, e Rachel Charlotte Smith, ePDF, 251–68. London: Bloomsbury Academic.
Nissenbaum, Asaf, e Limor Shifman. 2017. «Internet memes as contested cultural capital: The case of 4chan’s /b/ board». New Media and Society 19 (4): 483–501.
Ortner, Sherry B. 2011. «On Neoliberalism». Anthropology of this Century. 2011. http://aotcpress.com/articles/neoliberalism/.
Ortner, Sherry B. 2016. «Dark anthropology and its others: Theory since the eighties». HAU: Journal of Ethnographic Theory 6 (1): 47–73.
Rabinow, Paul, e George E. Marcus. 2008. Designs for an Anthropology of the Contemporary. Durham: Duke University Press.
Robinson, Laura. 2009. «A taste for the necessary: A Bourdieuian approach to digital inequality». Information Communication and Society.
Robinson, Laura. 2011. «Information-channel preferences and information opportunity structures». Information Communication and Society 14 (4): 472–94.
Sample, Ian. 2018. «What is the internet? 13 key questions answered». The Guardian. 2018. https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/22/what-is-the-internet-13-key-questions-answered.
Sharma, Devika, e Frederik Tygstrup, eds. 2015. Structures of feeling. Affectivity and the study of culture. Berlin: De Gruyter.
Sillitoe, Paul. 2018. «Some challenges of collaborative research with local knowledge». Antropologia Pubblica 4 (1): 31–50.
Urciuoli, Bonnie. 2010. «Neoliberal Education». Ethnographies of Neoliberalism, editado por Carol J. Greenhouse, 162–76. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Wallace, Jamie. 2012. «Emergent Artefacts of Ethnography and Processual Engagements of Design». Design and Anthropology, editado por Wendy Gunn e Jared Donovan, ePDF, 224–35. London: Ashgate.
Williams, Raymond. 2015. «Structures of Feeling». Structures of feeling. Affectivity and the study of culture, editado por Devika Sharma e Frederik Tygstrup, 20–25. Berlin: De Gruyter.
Yurchak, Alexei. 2005. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press.

WORLD WIDE WORK: a Internet na prática contemporânea do design de comunicação
A Internet é um facto tecnológico que damos como adquirido nas nossas vidas, mas a sua proliferação global é um fenómeno recente e os seus efeitos não podem ainda ser totalmente compreendidos. Neste meio eminentemente visual, voltamos a atenção para a produção das imagens, cada vez mais o centro da comunicação. Consideramos um ciclo em que a produção das imagens molda o mundo e é moldada por ele. Focamo-nos numa disciplina que trabalha a comunicação visual para entender como os seus praticantes são influenciados pela Internet, não só no momento de produzir, mas também no quotidiano. Que imagem têm do mundo? Que imagens fazem do mundo? Esta experiência etnográfica com estudantes de design de comunicação descreve e analisa alguns mecanismos práticos e reflexivos que devolvem imagens a um mundo de imagens.
Projeto de Mestrado em Antropologia (Culturas Visuais)
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa
2021
Orientação
Filomena Silvano (FCSH-NOVA)
Sofia Gonçalves (FBAUL)
Workshop
Lisboa
Outubro/Novembro 2020
Organização
Guilherme Sousa
Participantes
André Coelho
Gonçalo Nascimento
Margarida Godinho
Rodrigo Julião
Sofia Paz
Victória Gazineu
Apoio
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa