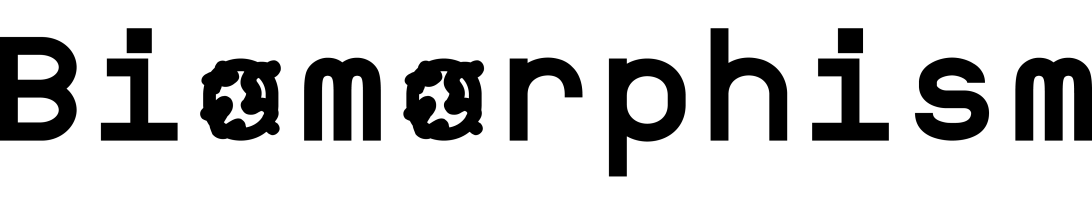Será difícil esquecer a primeira vez que fui ao Estrela. Edifício de esquina à Graça, dentro da antiga vila operária desenhada no início do século XX por Norte Júnior para o industrial Agapito Serra Fernandes, o Bairro Estrela d’Ouro. Estávamos no Damas, um pouco abaixo, quando a Angelina nos falou desse espaço semi-clandestino. Nessa altura costumávamos sair para o Cais do Sodré e para outras paragens da Graça. Mas isto era algo diferente, percebia-se logo. Subidas as escadas em madeira, como quem vai para um after em casa alheia, chegava-se a uma bifurcação: à esquerda uma longa sala ladeada por sofás; à direita, um bar igualmente estreito, que se alargava um pouco antes das casas de banho. Muito barulho de música e conversa efusiva, muito fumo também. Uma cena com impacto, difícil de descrever. Virámos à esquerda e não passou despercebida a concentração de artistas, músicos, cineastas, putos da cena e outras personagens inusitadas que até então só encontrara dispersamente pela cidade. Já tinha conhecido sítios da Lisboa boémia, mas aquele havia de ser o nosso, sem que na altura o soubesse, mas talvez já suspeitasse.
Nas noites fortes — quinta, sexta e sábado — o Estrela estava à pinha. Era difícil andar, conversar, fumar cigarros sem queimar ninguém ou beber cervejas sem entornar. Era quente, suado, trashy, cacofónico. Dava para dançar, por vezes atrás ou em cima do balcão. Conseguia abrir-se espaço para as filas da casa de banho, um jeitinho para passar e pouco mais. Sentávamos em velhos móveis de segunda mão, cadeiras da escola primária, sofás rasgados, mesas a transbordar de garrafas e periscas, o chão a colar à sola dos sapatos. Nos primeiros tempos, havia na sala dos sofás um Macintosh antigo que funcionava como jukebox, mas a mesa do DJ costumava estar do outro lado, no bar. O Estrela era especial nas noites de enchente, mas não era pior nas noites calmas, quando se podia ir sozinho e encontrar sempre um companheiro com vontade de conversar e beber cerveja morna.
Espaço de lazer e convívio, certamente, foi também um epicentro cultural. Falo de centenas de concertos, performances, exposições, edições, DJ sets (nenhum deles mais emblemático do que os do Xico da Ladra). Jazz, hip-hop, música eletrónica, experimental, pop, pimba… Arte sincera do antigamente e a novidade da ironia. O Mário Mágico a fazer truques e retratos com cigarros apagados. Coisas muito boas, coisas muito más. Sempre algo para ver e nos desafiar. Assunto de conversa, mais não seja. E tudo isto num caldeirão político. Havia os cartazes anti-Temer que viraram discurso anti-Bolsonaro. Autocolantes antifa em todo o lado. Palavras de ordem mais ou menos sentidas. Discutia-se Trump, Chega, os fachos, a polícia, a crise. Ouviam-se velhas canções de protesto, particularmente eficazes em datas como o 25 de abril ou o 1º de maio. O Estrela sempre se inclinou à esquerda sem nunca ter “partido”.
Sítio marginal que todos os crónicos precisavam na sua vida. Espaço de experimentação artística e social. Futurista, melancólico, acordado, iludido, determinado, acomodado – símbolo reconfortante de uma geração cheia de dúvidas e intenções. A Lisboa moderna ainda ligada ao espectro notívago da metrópole burlesca, herança não reclamada do Herberto Hélder, da Natália Correia, do Zé da Guiné. Para nós foi Café Gelo, Brasileira, B.Leza, Cabaret Maxime, Frágil. Sítio que felizmente vivi já com a consciência de que a cidade é grande e se ali acontece a vida toda numa noite, tantas outras vidas acontecem em todo o lado onde eu não estava nem estive. Para nós Lisboa nasceu ali, Lisboa ali viria a morrer de certa forma.
No Estrela conheciam-se pessoas, faziam-se amizades, começavam-se e acabavam-se relações. Amor, vergonha, arrependimento. Também violência esporádica, incluindo assédio policial e imobiliário. Claustrofobia, ataque de pânico. Sítio impossível, um dos últimos. Fechou numa semana apoteótica. No último dia, com uma lotação mais que esgotada, deu-se a última visita dos agentes, que viram o seu carro de patrulha ser engolido por hipsters, mitras, freaks, junkies, dissidentes e o resto da sopa urbana que fazia o Estrela. Umas horas mais tarde, quando entrámos no Estrela pela última vez, não era fumo que enchia o ar, mas pó. Aqueles que tinham voltado primeiro, à revelia das ordens policiais, tinham começado a destruir o espaço à martelada.
O André, que geria o espaço, é uma figura central da noite lisboeta, ainda que de forma discreta. Antes do Estrela teve o Laboratório, que nunca visitei, e depois o Banco, por baixo da Sé. Sei que o Banco foi talvez, para uma geração um pouco mais nova, tão importante como o Estrela foi para mim. Mas nunca gostei tanto do Banco e só realmente o apreciei quando estava a fechar. À semelhança do Estrela, acabou em caos, sobrelotado, com cuspidores de fogo e falta de energia. Com suor e lágrimas, sangue não vi. Mas não quero, nem posso, individualizar o Estrela. Haveria muitos mais nomes a convocar e esquecer-me-ia, certamente, de uns quantos. Além disso, há gente com muito mais a dizer, porque se eu passava lá muitas noites, outros foram realmente essenciais em preservar aquele sítio e aquela comunidade, dedicando-lhe muito esforço e horas de vida. Por eles e elas sustentado, o Estrela foi uma autêntica experiência coletiva que fez sentido na altura em que fazia sentido.
Para mim falar do Estrela não é fácil, e não o digo com dramatismo. Sei que esta descrição de algo tão marginal e, no plano geral, tão insignificante, pode parecer hipérbole, delírio nostálgico, convenientemente vago e um bocado foleiro. Mas a verdade é que a memória vai-se perdendo apesar de todos os registos, aqueles que foram partilhados (como a Revista Decadente) e os que ficaram guardados por motivos mais ou menos evidentes (quantas fotos e vídeos em quantos telemóveis?). Hoje, o Estrela parece que é falado com cautela e mágoa. Alguém que se preparava para sair da cidade disse-me que Lisboa depois do Estrela não vale a pena. Já hiperbolizaram mais do que eu. Mas pouco vai ficando escrito.
No final de contas, para lá da simpatia pessoal, o que vale a pena reter do Estrela? Na minha opinião, o último fôlego vigoroso de uma cidade assaltada pela gentrificação. Um fôlego que não foi exclusivo, pois Lisboa teve e continua a ter, apesar de cada vez menos, outros focos de agitação cultural. Dito isto, a Lisboa do Estrela sobreviveu-o, mas não por muito tempo. O falecimento inesperado do Xico da Ladra, que era uma espécie de eixo à volta de quem tudo girava, destroçou e desanimou dezenas de amigos. Semanas depois, entrámos em confinamento pandémico, do qual saímos mais desagregados, cansados e pobres. A cidade foi tomada por nómadas digitais e turistas, que agora podem subir aquelas escadas, guardar a sua mala e beber um coquetel. Em relação a estas coisas não pode haver mágoa nem saudosismo. Sem dúvida alguma que o caminho se faz para a frente. Do passado, levamos essa diversão pura e sincera. Uma camaradagem em tensão constante e produtiva. Dialética e contraditória. Elétrica. E num flash, buraco negro.