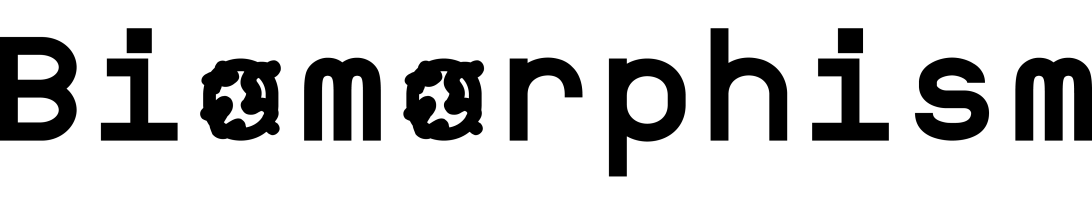Lisboa, Abril de 2021
O 11 de setembro de 2001 foi provavelmente o primeiro momento histórico de mudança global repentina a que a minha geração pode assistir. Com apenas sete anos de idade, tive uma reação inicial às imagens de extraordinária violência que as televisões transmitiram naquele início de tarde igual à de muitas crianças da mesma idade, como tenho confirmado desde então. Eu achava que era um filme. Especificamente, achava que era o filme que em criança alimentava os meus sonhos de um dia vir a ser bombeiro voluntário: A Torre do Inferno. Acredito que, ao contrário dos adultos, que fazem essa afirmação em jeito de hipérbole, as crianças foram mesmo enganadas pela televisão. Não sei por quanto tempo achei que assistia a um filme, não terá sido mais que uns minutos, mas sinto hoje que esses minutos de ilusão se transformaram numa marca geracional. Uma explosão no coração do império, mais um ponto numa longa história de guerra, mas naquele momento, uma imagem.
Essa imagem das torres desenhadas pelo malfadado arquiteto Minoru Yamasaki sendo atingidas por aviões, e depois ruíndo sobre a população de Nova Iorque, foi impressa na cultura como um trauma, um aviso e um apelo nacionalista. No cinema, as cenas de guerra e caos em centros urbanos passaram a usar como referência o manto de pó branco que cobriu as pessoas em fuga, imortalizadas em incontáveis fotografias e vídeos que haviam sido comparados a produções cinematográficas. Esta inquietante marca da realidade recriada no cinema ilustra a forma como toda a cultura norte-americana, a mesma que o resto do mundo consome e reproduz, se tornou pelo menos um bocadinho acerca do 11 de setembro. Quando olho para esta construção Lego que fiz em criança, no ano a seguir aos atentados, tenho a certeza que estava a pensar nas torres gémeas, no seu perfil vertical e faces planas, no sentido de vigilância e perigo iminente anunciado pelos guardas no topo do edifício. Ela lembra-me de como crescemos sob as asas da História e da Cultura, pois sei que esta experiência privada não é de maneira alguma única. Gostemos ou não, tudo se tornou pelo menos um bocadinho acerca do 11 de setembro.
As minhas recordações daquele dia não são as mais claras. Já não me lembro, por exemplo, se esta confusão entre a realidade e Hollywood aconteceu em minha casa ou na dos meus avós. Não me lembro se foram eles, os meus tios ou os meus pais que me fizeram perceber o que se estava realmente a passar e já não distingo os diretos das repetições. Mas lembro-me da confusão e da incredulidade, do quanto tudo parecia encenado e toda a gente fazia questão de o dizer uma e outra vez. A História, desde então, produziu momentos e processos sem precedente, igualmente evocativos da fantasia do cinema e desafiadores do conforto do normal. Escrevo este texto a meio de uma pandemia global que mantém a maioria do planeta em confinamento domiciliário há mais de um ano. Contudo, nada desde então se aproximou sequer do poder visual do 11 de setembro e é provável que nada antes o tenha feito também. De muitas formas este é o retrato da História, a síntese perfeitamente violenta a ser consumida pelos olhos, até ao dia em que a própria História possa explodir também e libertar tudo o resto do peso das imagens.